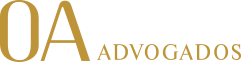Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 59.º da Constituição da República Portuguesa, todos os trabalhadores têm direito a assistência e justa reparação, quando vítimas de acidente de trabalho ou de doença profissional. A segurança física e saúde dos trabalhadores é um princípio fundamental do Estado de Direito. Esse é o principal motivo que levou a ser estipulada a obrigatoriedade da existência de um seguro de acidentes de trabalho, cuja base legal é, atualmente, a Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro (doravante designada, abreviadamente por LAT), por remissão do art.º 284.º do Código do Trabalho.
Existem casos em que o infortúnio, inequivocamente laboral, e de gravidade extrema, não provoca, imediatamente, o dano “morte”. Esse dano “morte” ocorre depois do acidente. Mas o Acórdão sob comentário traz à colação uma reflexão suplementar, que marca a especificidade desta situação e a torna ainda mais contingente: o dano “morte” dar-se por ato final de suicídio do trabalhador, num contexto de grande e permanente sofrimento, cujo encadear de factos enraíza a origem do estado depressivo profundo (ou pelo menos a sua causa mais fundamental) no acidente de trabalho originário. E esta questão deve ser objeto de reflexão jurídica, numa perspetiva “de jure constituto”, mas também numa perspetiva social e de política legislativa, ou seja, “de jure constituendo”.
Nestes casos, o que está em causa não é a qualificação do evento como acidente de trabalho, não sendo de aplicar o conceito clássico e normativo de acidente de trabalho para caracterizar essa eventualidade, seja na sua formulação básica, seja na sua formulação mais alargada (respetivamente os n.º 1 e 2 do art.º 8.º da LAT). Nestes casos, o dano “morte” nunca surge no local e tempo de trabalho, ou nas circunstâncias factuais mais largadas que ainda estão contidas nessa noção. A questão que se coloca é a da manutenção, ou não, da existência de nexo causal (naturalístico e jurídico) entre o acidente de trabalho e esse dano.
O que o Acórdão em comentário vem confirmar é que esse nexo causal, quando o resultado “morte” ocorre muito depois do acidente de trabalho, a vítima de acidente de trabalho (leia-se, a respetiva família e beneficiários) enfrenta sempre uma “diabolica probatio”. E, mesmo quando vencida a “batalha” da prova, na perspetiva dos beneficiários do trabalhador acidentado, o ordenamento jurídico não lhes confere proteção adequada.
Em que condições pode manter-se o nexo causal, para que um acidente de trabalho possa ser considerado causa adequada de um dano “morte”, que se dê muito anos após a sua ocorrência, e precedido de ato de suicídio do trabalhador vítima de grave acidente de trabalho? Quais são os limites do nexo causal, nestes casos específicos?
A jurisprudência tende a considerar que o facto da morte do sinistrado ter acontecido por suicídio quebra o nexo de causalidade entre o facto e o dano [neste sentido o Ac. do STJ de 16-12-2010, Recurso n.º 196/06.8TTCBR-A.C1.S1- 4.ª Secção (Sousa Grandão), citado no Acórdão].
“No que à causalidade concerne o nosso ordenamento jurídico consagra a teoria da causalidade adequada na sua formulação negativa, sendo necessário demonstrar, no caso, que se não tivesse sido o acidente e as lesões que imediatamente lhe advieram a morte do sinistrado não teria ocorrido”.
Não só a causalidade naturalística enfrenta todas as dificuldades inerentes à evolução do estado físico e mental do indivíduo ao longo dos anos (onde a intervenção médica no espaço jurídico tem um papel fundamental para a manutenção ou interrupção do nexo causal), como a causalidade jurídica tem de respeitar lineares premissas e conceitos jurídicos que, procurando a equidade, certeza e segurança na aplicação do Direito (para além do enquadramento nas apólices de seguro), podem deixar de cobrir situações onde a “ratio” da existência dessa cobertura ainda devia poder estar operativa. Ou seja, o nexo causal sofre vicissitudes que levam a que a aplicação da teoria da causalidade adequada promova uma interrupção do nexo causal da responsabilidade infortunística do empregador, legalmente transferida para uma seguradora. A teoria da causalidade adequada, conforme expressa no artº. 563º. do Código Civil, determina que “a obrigação de indemnização só existe em relação aos danos que o lesado provavelmente não teria sofrido se não fosse a lesão”. Aqui coloca-se logo a questão de saber se a patologia desenvolvida pelo trabalhador sinistrado, e produzida pelo acidente que o vitimou, foi, ou não, causa adequada da sua morte, face a ter sido determinante do ato de suicídio que definitivamente pôs termo à sua vida.
Não é a primeira vez que esta reflexão é feita, com uma dinâmica parcialmente análoga à da situação objeto do Acórdão sob comentário, mas situada na temática do ressarcimento das consequências do assédio no local de trabalho e sua influência no elemento volitivo que levou o trabalhador ao suicídio. E alguma doutrina já se pronunciou no sentido da extensão dessa proteção: “Os suicídios de cariz laboral ocorridos em situações de incapacidade acidental, merecem a tutela do direito laboral por aplicação do disposto no artº 14º/1-c) da LAT.” (por todos, ver Rita Garcia Pereira e Teresa Coelho Moreira, nas respetivas teses de Mestrado).
Tal como se pode constatar nos casos do assédio no local de trabalho, em que o trabalhador vítima deste comportamento põe termo à sua vida por ato de suicídio, existem outras situações em que os conceitos normativos clássicos e a doutrina jurídica tradicional relativa aos de acidente de trabalho e doença profissional não abarcam a multiplicidade de situações em que se justificaria a manutenção da responsabilidade infortunística, como é o caso analisado no Acórdão sob comentário. E cabe aqui, tal como ali, refletir se não estamos perante um ordenamento jurídico substantivo que não oferece os necessários meios de reação, mesmo quando as dificuldades de prova inerentes tão complexa matéria são superadas.
A jurisprudência citada no acórdão sob comentário defende que a prática de suicídio, estando o suicida plenamente livre na sua autodeterminação, conduz à não tutela e reparação pela legislação dos acidentes de trabalho, da morte do sinistrado.
Uma perplexidade logo nos assalta: face à autêntica “via sacra” que o trabalhador enfrentou desde o acidente de trabalho, e por causa dele, como é que o sinistrado pode ser visto como alguém que não se encontra condicionado na sua vontade? Será que esta abordagem faz sentido?
A lei adjetiva laboral acolhe a possibilidade de reforma do pedido em caso de falecimento da vítima de acidente de trabalho, nos termos dos arts. 141.º e seg. do Código de Processo do Trabalho. Mas não existe lei substantiva que promova uma realização eficaz da justiça laboral infortunística nestas situações. As posições defendidas pelo STJ negam a existência de nexo causal (naturalístico e jurídico), impedindo que o dano morte, nestes casos, seja ressarcido ao abrigo do regime de reparação de acidentes de trabalho ou doença profissional.
Não se contesta que o ato de suicídio pode radicar num comportamento voluntário e intencional do suicida. No entanto, questiona-se se esta vontade não se encontra, no caso em apreço, condicionada pelo quadro depressivo originado pelo acidente de trabalho e pelas lesões físicas dele resultantes. Ambos concorrem, claramente, para limitar a autodeterminação e a racionalidade do sinistrado (de qualquer sinistrado). Não nos causa qualquer pudor considerar, neste caso concreto, que o sinistrado não se suicidaria se não se tivesse verificado o acidente.
Parece-nos importante transcrever o acervo fático relativo às consequências do acidente de trabalho: “Em consequência do acidente fraturou duas vértebras, com paraplegia, e sofreu uma fratura exposta na perna direita, tendo-lhe sido fixada incapacidade permanente absoluta (I.P.A.) desde 15 de Julho de 1993, com auxílio de 3ª. Pessoa.
Quando sofreu o acidente … gozava de perfeita saúde. Após o acidente foi submetido a várias intervenções cirúrgicas. Na sequência das intervenções e tratamentos a que submetido, … desenvolveu uma infeção nos joelhos, vindo-lhe, após anos de tratamentos e intervenções cirúrgicas, a ser removidas todas as articulações dos joelhos, com junção da tíbia e do fémur, sem qualquer possibilidade de articulação das pernas que ficaram permanentemente em extensão. Anos mais tarde foi-lhe amputada a perna direita, continuando a perna esquerda a apresentar sintomatologia infeciosa. Também no decurso dos tratamentos, com vários períodos de internamento, veio a manifestar-se infeção urinária e a sofrer de uma degradação progressiva nos rins, passando, a partir de Junho de 2011, a submeter-se a hemodiálise três vezes por semana, tendo, quando iniciou a hemodiálise, sido sujeito a duas cirurgias extensivas para criar uma fístula arteriovenosa. Em Abril de 2018, no decurso de uma infeção aguda do sistema urinário, foi submetido a uma cirurgia para limpeza da uretra e correção do bloqueio resultante de uma colocação malsucedida da algália. Sofreu vários internamentos, tendo a Ré deixado de prestar a assistência necessária e adequada. Surgiram-lhe, após, lesões na pele que lhe provocavam enorme mal-estar, comichão constante e sangramento. Em 13 de Junho de 2018 foi novamente internado com uma infeção generalizada, tendo tido alta a 16 de Julho de 2018. As dores causadas pela escara tornaram-se excruciantes, causando-lhe grande sofrimento qualquer tentativa de o mover na cama e a higienização de rotina que tinha que ser feita. Devido à grande dependência de terceiros e à necessidade de continuação de tratamentos à escara, com a frequência de, pelo menos, dois tratamentos por dia, equacionou-se o internamento em cuidados continuados. Após a alta hospitalar, a 16 de Julho de 2018, … regressou a casa, tendo aguentado duas semanas de sofrimento atroz, com dores insuportáveis provocadas pela escara e com enormes dificuldades em se movimentar, tendo, em 1 de Agosto de 2018, posto termo à vida, recorrendo para o efeito a uma tesoura com a qual cortou o braço esquerdo, atingindo o interior da fístula arteriovenosa.

Lido o segmento final conclusivo do Acórdão conseguimos acompanhar o “iter” decisório do julgador. Mas já não acompanhamos a última referência conclusiva que antecede a decisão do coletivo de juízes, no segmento em que entende que o suicídio “ocorre sem que se saiba o que o determinou”. Esta abordagem causa-nos alguma perplexidade, tendo em conta o acervo fático acima transcrito. Parece-nos que o grande lapso de tempo existente entre o acidente e o dano “morte” (27 anos), de per si, impressionou negativa e determinantemente o(s) julgador(es). O TRL não vislumbra o nexo causal naturalístico entre o acidente e o resultado morte. O acidente de trabalho não é causa idónea do dano morte, em abstrato. O nexo causal jurídico relativo ao dano “morte” é estabelecido com o próprio ato suicida, e não com o anterior acidente de trabalho. Assim, o TRL não identifica como verificado o nexo causal jurídico.
Quanto a nós, as teorias civilistas relativas ao nexo de causalidade não são sensíveis a este tipo de especificidade laboral. Cremos que sempre que seja estabelecido um nexo de causalidade determinante (que não se deve confundir com “conditio cine qua non”) entre o trabalho e o suicídio, demonstrando-se que o estado depressivo profundo, conjugado com sofrimento físico agudo e prolongado do trabalhador acidentado, foram determinantes para aquele ato extremo, os danos daí decorrentes não podem deixar de ser merecedores de reparação ao abrigo do regime infortunístico de acidentes de trabalho. O adequado tratamento jurídico desta matéria deve evoluir nesse sentido sempre que as consequências de um acidente de trabalho podem levar, em determinadas circunstâncias, ao suicídio do trabalhador. E esta reflexão impõe-se, sobretudo, por questões de Justiça (“in casu”, laboral). Citando Santo Agostinho, “Onde não houver verdadeira Justiça não pode haver Direito”.
[1] Acórdão do Tribunal da Relação de Lisboa, Processo n.º 4513/09.0T2SNT-B-4, de 12 de outubro de 2022