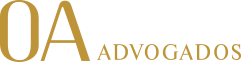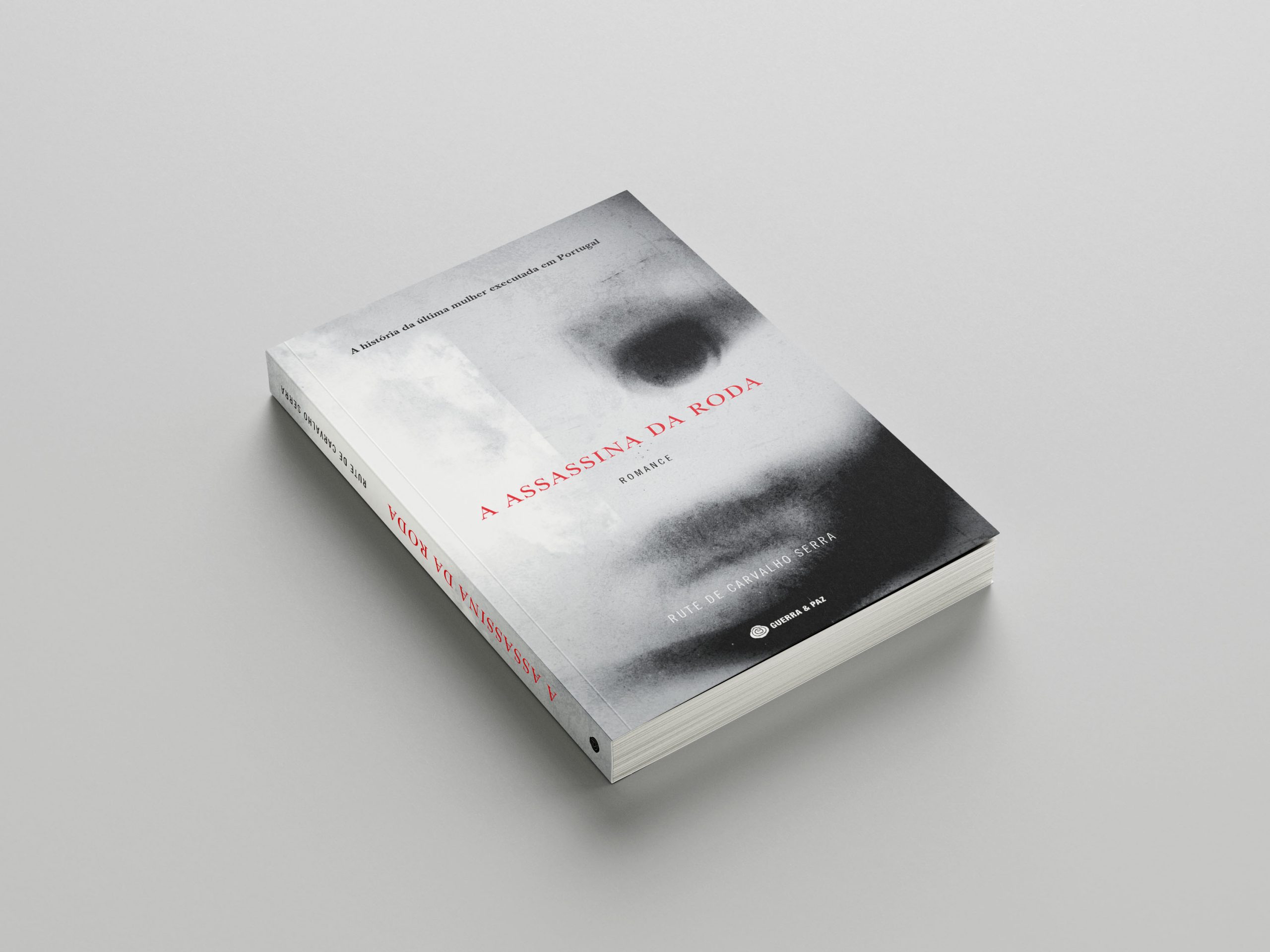Cultura
Luíza de Jesus, a inimiga da inocência
Vislumbres motivacionais sobre a obra «A Assassina da Roda», Guerra e Paz Editores, 2020
«A vingança é a justiça do Homem no seu estado selvagem»
EPICURO
 Nas minhas deambulações assíduas por textos esparsos e obras consagradas de Direito Penal, área desta inebriante ciência do saber a que sempre dediquei incisiva atenção, caiu-me nas mãos uma sentença de papel amarelecido pela incomplacência do tempo. Tinha sido proferida em 1772, pela Casa da Suplicação de Lisboa, contra uma mulher de apenas vinte e dois anos de idade, Luiza de Jesus. O crime de que vinha acusada era bárbaro e difícil de conceber ter acontecido pelas mãos de uma jovem mulher. Na idade em que muitas iniciavam a grande viagem maternal, Luiza assassinou cruelmente trinta e três crianças expostas na Roda da Misericórdia de Coimbra.
Nas minhas deambulações assíduas por textos esparsos e obras consagradas de Direito Penal, área desta inebriante ciência do saber a que sempre dediquei incisiva atenção, caiu-me nas mãos uma sentença de papel amarelecido pela incomplacência do tempo. Tinha sido proferida em 1772, pela Casa da Suplicação de Lisboa, contra uma mulher de apenas vinte e dois anos de idade, Luiza de Jesus. O crime de que vinha acusada era bárbaro e difícil de conceber ter acontecido pelas mãos de uma jovem mulher. Na idade em que muitas iniciavam a grande viagem maternal, Luiza assassinou cruelmente trinta e três crianças expostas na Roda da Misericórdia de Coimbra.
Os factos relatados naquele libelo estarreceram os constructos mentais da mulher do século XXI, que sou. Mas foi a extrema crueldade da pena aplicada que incitou o meu curioso e sempre demandante espírito jurídico perfilado nas teorias do Direito Penal clássicas de Franz Von Lizst e Ernst von Beling, neo-clássicas, de Gustav Radbruch, Edmund Mezger, Eduardo Correia e Cavaleiro de Ferreira, mas também na realidade ontológica finalista de Hans Welzel e Reinhart Maurach.
Que motivos permitiriam que estivesse, quase no século XIX, Portugal tão distante dos ideais iluministas que, por aquele tempo, ecoavam já impetuosos pela restante Europa, através das penas de Cesar Beccaria, Voltaire, Diderot, entre outros vultos humanistas da época? E afinal tão perto da representação da vendetta privada, esse tempo que Rudolf Von Ihering, no século XIX, considerou excessivo porque ausente de limites: “A vingança, não conhece outra medida senão o grau, puramente acidental e arbitrário, da sobrexcitação do indivíduo lesado. Em lugar de tirar força à injustiça, tem como único efeito duplicá-la, acrescentando à injustiça existente, uma nova injustiça”.
Do colectivo executor do destino desta mulher foi-nos dado apenas a conhecer um singelo apelido. Quem eram aqueles homens? Aqueles magistrados do Portugal do século XVIII, rural, dito civilizado mas afoito em crendices, que «julgaram como entes limitados e puniram como infalíveis»? Teriam soçobrado ante o desejo tribal da carnificina, materializado em espectáculo? Ou teriam algo a esconder?
Foi neste contexto alquímico que forjei a vontade de, num primeiro momento, investigar sobre o que a História teria para nos contar sobre a personalidade e vida daquela mulher, os homens que a condenaram e a justiça que lhe ceifou o sopro de vida. Cedo me deparei com factualidade contraditória e perturbadora, quanto ao móbil do crime: a dívida da Misericórdia de Coimbra naqueles anos, às amas que buscavam crianças para as educar até aos sete anos de idade era assombrosa, visto a qualidade de instituição creditícia que as Misericórdias, ao tempo, representavam. Tal inquinava inexoravelmente o constante da sentença – Luiza matou para se locupletar com os seiscentos réis pagos por criança pelo Estado, um berço e um côvado de baeta?
E aguçou-se-me o espírito, mas também a criatividade. A este rol, uma frase curta, lacónica mas impregnada de convicção por quem a proferiu, justificava a impiedosa pena aplicada: «com baraço e pregão pelas ruas públicas e costumadas seja atenazada e levada ao lugar da forca; e nela lhe sejam decepadas suas mãos; depois do que morra por morte natural de garrote; e dado esta seja o seu corpo queimado e reduzido a cinzas» e não conseguia, dentro de mim, calar: «Para que nunca mais haja memória de semelhante monstro».
O esquiço de uma história, urdida na factualidade histórica que investigava e na imaginação. Durante quase três anos persegui com avidez a personalidade e contexto de vida de Luiza de Jesus, explorei hábitos e costumes da época, embrenhei-me no dédalo coimbrão, subi à Serra de Gavinhos, em Figueira de Lorvão, encafuei-me em bibliotecas, numa busca incessante por entender. E foi quando em mim nasceu uma «desordenada paixão de apetecer» embalar este estranho berço. Afinal porque o fez? Quem era aquela mulher?
Luiza de Jesus. Nascida em 1750, na Serra de Gavinhos, Figueira de Lorvão, concelho de Penacova. Filha de pais descendentes de galegos, que em finnibus galaciae por foral de D. Manuel I, desde o século XVI povoaram aquelas terras, muitos fugidos da sanguinária Inquisição espanhola. Em 1772, com vinte e dois anos de idade, era casada com Manoel Gomes e tinha a profissão de recoveira, isto é, levava e trazia pelas barcas serranas do Mondego, encomendas a quem a incumbisse.
Mas também Luiza de Jesus. O «monstro de coração perverso» que assassinou trinta e três crianças expostas na Roda da Misericórdia de Coimbra e que veio a ser a última mulher executada (mas não condenada) em Portugal.

A história de Luiza de Jesus que romanceei é uma história de dor, de hipocrisia e de assombramento, que não podemos alhear do contexto dos lugares, da sociedade e do tratamento – miserável – dispensado aos «filhos do sacrilégio e da infâmia, do beijo criminoso!», as crianças expostas nas várias Rodas existentes pelo País. Não raras vezes era do pecadilho de jovens monjas, da dor do amor de mães indigentes e de uma sociedade intolerável com os que considerasse amores proibidos, que surgia a motivação do abandono.
Porque nem sempre a infância foi alvo da protecção que hoje encontramos, desde logo na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, com pouco mais de trinta anos.
No século XVIII, em Portugal, mais de 80% das crianças expostas não sobreviviam às horríveis condições que as várias rodas espalhadas pelo país apresentavam, e tal não correspondiam a uma real preocupação dos governantes.
Foi assim ao longo de um tempo hoje esquecido. De acordo com as descrições de Estrabão, na antiga Lusitânia expunham-se os doentes nas encruzilhadas, na esperança que algum transeunte bondoso os conseguisse tratar. As «abafadeiras» sufocavam os doentes terminais, praticando aquilo que ainda hoje gera controvérsia, mas que à época foi considerado misericórdia: a eutanásia. As crianças indesejadas nem sempre eram expostas nas Rodas que existiam um pouco por todo o país: muitas daquelas nem essa oportunidade de sobrevivência tinham, pois eram entregues para morrer às «tecedeiras de anjos», como fez Amaro, a personagem central da imortal obra de Eça de Queiroz, «O Crime do Padre Amaro». Foi aquele um tempo em que gravidezes que não deviam ter acontecido eram depositadas nas mãos de «movedeiras», para que ajudassem as mulheres a livrarem-se daquele estado, suposto de graça.
Em Portugal, a prática da exposição de crianças é muito antiga. Antes da criação dos hospitais dos expostos e até sensivelmente ao século XVI, as responsáveis legais por estas crianças eram as Câmaras Municipais. Com o surgimento das Misericórdias, foram-se paulatinamente transferindo competências para estas últimas, de administração das Rodas dos Expostos. O que não significou propriamente melhor administração, como se verificou neste caso.
E aqui chegados, deixamo-nos levar pela mão do narrador desta história: um dos desembargadores que julgou e condenou à morte Luiza de Jesus, o último a assinar a sentença: Manique. Diogo Inácio de Pina Manique, que a História haveria de imortalizar como o temido Intendente Geral de Polícia.
Alguns serões de leitura do «Dicionário dos Desembargadores» de José Subtil permitiram-me decifrar as vidas e as personalidades dos homens havidos por detrás dos apelidos dos executores. Como por exemplo D. João Cosme da Cunha, o cardeal regedor. Um homem de carácter cacoquimo e supersticioso(!) que não dispensava a visita diária à bruxa Catarina do Espírito Santo, que atendia na rua dos Odreiros, antiga toponímia da actual rua da Prata. E desvenda-se-me um vulto malicioso, ávido por despachar o assunto incómodo, que, se não eximiamente gerido, lhe podia fazer perigar a carreira habilmente tecida em mentira e ausência.
E é pela mão do último executor desta mulher – Diogo Inácio de Pina Manique, um jovem de trinta e sete anos, nomeado apenas há um ano para a Casa da Suplicação, pese embora a sua já relevante experiência jurídica, que convido os leitores a decifrarem causas e motivos, danos e consequências, ultrajes e redenção. Pina Manique, que havia, de facto, oito anos após este episódio, de fundar, com o beneplácito régio de D. Maria I, a Real Casa Pia de Lisboa, porto de abrigo de desvalidas das circunstâncias que a pobreza e a miséria proporcionavam, em Portugal.
Era ainda notória a influência das antigas ordalias medievas e das cartas de perdão, na disciplina criminal que em 1772 vigorava em Portugal. O Livro V das Ordenações Filipinas, em vigor desde 1640 serviu de decalque, ainda que esborratado, aos factos apresentados. As irregularidades processuais, que hoje, tomando forma de nulidades insanáveis, podiam ter permitido outro desfecho da história, foram ocultadas porque havia de dar aos «Olhos do Povo», o que o Povo, sem saber como e porquê, afinal, reclamava – uma exemplar aplicação da justiça.
Esta legislação convivia com um acervo penal disperso. Ciente dos óbices jurídicos que este facto em si transportava e na senda de uma crença que fazia depender a felicidade das nações de um entendimento claro, certo e indubitável das leis, cuja inteligência se encontraria obscurecida pela sua multiplicidade e obsolescência vem D. Maria I, em 1778, a criar uma Junta de Ministros com a missão de examinar a inúmera, dispersa e extravagante legislação que convivia com as Ordenações do Reino de modo à sua futura codificação.
Foram, contudo, necessárias várias décadas, para que se viesse a considerar a legislação penal de 1772, «inconsequente», «injusta» e «cruel», como a adjectivou o Doutor Paschoal José de Mello Freire, o lente que por carta régia de 22 de Março de 1783 foi incumbido de elaborar os Códigos de Direito Público e Criminal, mas que morreu sem conseguir o desiderato.
Mitigam-se convicções, quando ao abalado desembargador Pina Manique, são dadas a conhecer as cogitações de António Ribeiro dos Santos, considerado hoje o primeiro abolicionista da pena morte, em Portugal. Não sem que no seu espírito ainda se vislumbrasse resistência aos ideais humanistas que haviam de vingar: “ (…) Louvo as suas preocupações, que mais não são que manifestações de um espírito livre e de cérebro funcional. Sei-o um homem de vastíssima cultura, o que sempre demanda a nossa razão. Mas, na verdade, de pouca utilidade poder-se-ão revestir, se não encontrar, como duvido que encontre, interlocutor que as escute, que com a mesma liberdade de pensamento sobre elas consiga reflectir. E ainda mais importante, que seja ousado o suficiente para as defender.”.
Quase duzentos e cinquenta anos depois deste terrível momento da nossa História, a obra «A Assassina da Roda» surge para inquietar os sentidos de quem a ler e permitir que «a memória de semelhante monstro nunca mais seja esquecida».